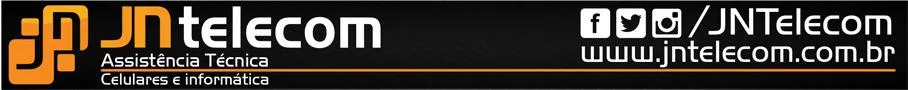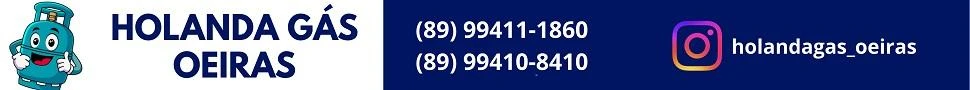A potĂŞncia dos sonhos ou chamem a polĂcia





Por que a opção pela montagem de uma peça escrita há 86 anos, poucas vezes encenada por grupos no Brasil e no mundo? Fiz essa pergunta ao ator Chiquinho Pereira, professor da Escola Técnica de Teatro Gomes Campos, sobre A Morta, peça de Oswald de Andrade. São dois os motivos: o texto de Oswald é atualíssimo e constitui um desafio enorme para sua encenação por alunos de teatro em formação.
Todos sabem do caráter iconoclasta do escritor, poeta, ensaista e dramaturgo paulistano, partícipe importante da Semana de Arte Moderna, de 1922, e autor de livros de ruptura, como Primeiro Caderno de Poesia do Aluno Oswald de Andrade, Pau Brasil e o romance experimental Memórias Sentimentais de João Miramar, dentre muitos outros.
Demolir ídolos não é uma pretensão solitária e inconsequente em sua obra, mas uma premissa para a construção de algo novo em substituição aos arcaísmos e neuras imobilizantes da sociedade. Por isso, Oswald está no rol dos principais modernistas que ansiavam fortemente pela construção de uma arte nova com diálogos orgânicos e seminais com a sociedade brasileira para superação de seu atraso e da exclusão do enorme contingente populacional do progresso técnico, que, em verdade, mais do que promessa, era – e ainda é - uma falácia.
Nada mais natural que o caráter participante, provocativo e denunciador das mazelas tupiniquins seja uma marca em sua obra para teatro, constituída por três peças.
Quando escreveu A Morta (1937), já pontificava como autor fundante da proposta modernista no Brasil, com pelo menos dez livros publicados até então, ao que se seguiu mais uma dezena de títulos até sua morte, em 1954.
Para ser ainda tão atual, o que tem A Morta, encenada na última quarta-feira, 13, no Auditório Sulica, em Teresina, por Chiquinho Pereira e alunos de teatro da Escola Gomes Campos? Primeiro, que a peça fala abertamente do Brasil, nominando cada um dos três quadros que a constituem de País do Indivíduo, País da Gramática e País da Anestesia, títulos que sugerem reflexões dolorosas sobre essa experiência coletiva inacabada.
Já mesmo no prólogo, adverte o Hierofante: “Senhoras, Senhores, eu sou um pedaço de personagem perdido no teatro. Sou a moral”. Isso parece a senha para se entrar na farsa oswaldiana, que começa com encruzilhadas existenciais (daí o título do primeiro quadro, País do Indivíduo), indissociadas da realidade econômica, política, social e psicológica. O personagem O Poeta, como os demais, é responsável por falas provocantes. Ele afirma logo no início da peça que se trata de um “país dissociado”, ao que A Outra completa: “Da existência estanque”. Oswald irrompe em ritmo alucinante e caótico. Nas primeiras falas emerge a (in)existência de portas, palavra com alto sentido simbólico para seres aprisionados, individual e socialmente. A Outra diz: “É perigoso abrir toda porta”. O Poeta: “A porta dá sempre na jaula”. Beatriz: “Só o papa pode abrir”. A ironia demolidora é uma constante em todo o texto. Um dos seus alvos é a herança religiosa judaico-cristã. “Sou obscura como uma ideia religiosa”.
Beatriz, não por acaso, o mesmo nome da heroína da Divina Comédia, comparece em A Morta, problematizando o amor: “Me ame por caridade!” Em outro momento, diz: “Quero ser um espetáculo para mim mesma!”. Isso leva a crer que a discussão coletiva em que consiste toda a peça, com pluralidade antagônica de pontos de vista, está também vinculada a questões subjetivas que o ser humano faz – ou devia fazer – desde a existência do mundo. Num discurso mais social, Beatriz é também pessimista, inclusive quanto à revolução, um dos temas, implícita ou explicitamente, mais caros na peça: “Sou a raiz da vida, onde toda revolução desemboca, espraia e pára”. Mas é o Poeta, incansável, que vem em socorro das prospecções libertárias: “As classes possuidoras expulsaram-me da ação.
Minha subversão habitou as torres de marfim que se transformaram em antenas...”. Com lugar para teorias políticas que mais tarde reduziram-se a pó e equívocos sangrentos: “No mundo sem classes o animal humano progredirá sem medo”. Mas também de pura utopia poética: “Toda a minha produção há de ser protesto e embelezamento enquanto não puder despejar sobre as brutalidades coletivas a potência dos meus sonhos”.
O texto de A Morta sugere montagem carnavalizante, aspecto compreendido pelo professor Chiquinho Pereira e seus alunos, que tentaram levar isso para o palco: anticenário, sonoplastia percussiva e de sons humanos, como vozes, grunhidos, gritos, movimentação caótica, tons sarcásticos e farsescos da maioria das falas, uso de máscaras e mamulengos etc. O mais difícil seja talvez imprimir na encenação a velocidade, a vertigem do texto, sempre com voltagem semântica elevada. Transformar tudo isso em fisicalidade no palco é o grande desafio do grupo, testado em coragem e disposição estética para montar a peça, que ainda precisa de muitos ajustes.
Não só a Morta, mas também as demais peças escritas por Oswald de Andrade são textos difíceis de serem encenados. O Rei da Vela, por exemplo, só foi montada 33 anos após ter sido escrita. São poucos os grupos profissionais, ou semiprofissionais, que se aventuram na dramaturgia oswaldiana. No teatro, como na poesia, na prosa literária e ensaística, no ativismo jornalístico, Oswald foi um autor instigante, sempre a propor transgressões, rupturas e linguagens novas.
Em A Morta, como em quase toda a sua obra, o autor se despe da argumentatividade lógica, de linearidades, de conclusões previsíveis, de puerilidades, e imprime um ritmo alucinante e aparentemente caótico. Ele quer chacoalhar o leitor-espectador bem conformado na cadeira do teatro e da vida. Uma das técnicas que usa é a justaposição, a colagem. Por exemplo: frases proferidas, sem aparente conexão umas com a outras. O leitor-espectador, se quiser, faça as sinapses.
No segundo quadro, No país da Gramática, Oswald desnuda a relação entre o discurso verbal e o mundo à sua volta, onde a linguagem foi gerada e é uma das peças principais da engrenagem que mantém a máquina do mundo em funcionamento, a mesma máquina que tritura seres humanos e mantém privilégios. Por isso, diz O Polícia: “Todo o meu glossário é de frases feitas”. Ao que O Turista arremata: “As mesmas que eu emprego. Nós dois só conseguimos catalogar o mundo, esfriá-lo, pô-lo em vitrine”. O Polícia: “Nossa desgraça seria imensa se subvertessem a ordem estabelecida (...)”.
Nesse quadro, o autor confronta dois grupos: Conservadores (“Somos o vernáculo das caravelas”) e Cremadores (“Fora as frases feitas, as frases ocas! Fora as frases mortas!). O Juiz decide a questão, um grande gramático, a favor dos Conservadores, claro! O Cremadores querem destruir os mortos que governam os vivos, a lógica que “tem servido de fundamento a todos os crimes históricos”. O nonsense, usado habilmente, não empana o conflito, antes o reforça.
No terceiro quadro, o mito adâmico é colocado em xeque, revisitado de forma corrosiva. A Dama das Camélias pede ao Hierofante: “Conte-nos a história da queda de Adão”.
Hierofante: “Levou um tombo! Quando se levantou do solo, estava criada a propriedade privada”. Adiante arremata: “Depois que o ouro nos expulsou da Idade de Ouro... exploramos a fábula...”
Aqui, fazendo inversão a Dante, é o Poeta que procura salvar Beatriz, que adere aos Conservadores, amigos dos mortos. Ela diz: “Habito o país letárgico onde não penetra a dor”.
Ante esse quadro fatídico, só o Poeta poderia dar palavra e ação finais: queima tudo com suas mãos heróicas. E o Hierofante conclama a todos, aproximando-se da platéia, nesse ponto, como em todos, perplexa:
“Respeitável público! Não vos pedimos palmas, pedimos bombeiros! Se quiserdes salvar as vossas tradições e a vossa moral, ide chamar os bombeiros ou se preferirdes a polícia! Somos como vós mesmos, um imenso cadáver gangrenadol Salvai nossas podridões e talvez vos salvareis da fogueira acesa do mundo!”