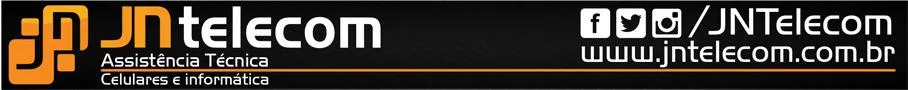OlĂĄ, (in)desejada!

Por RogĂŠrio Newton
O Dia de Finados passou e eu gostaria de ter escrito sobre a Morte, mas como tenho publicado aqui nas segundas-feiras, nada escrevi naquele dia. Faço hoje. O leitor Ê muito apegado à vida, mas vai me permitir enveredar por aquele tema, mesmo que seja em tom de conversa fiada.
Um dos meus primeiros contatos com a morte foi horrĂvel. Minha mĂŁe me mandou visitar o cemitĂŠrio no dia 2 de novembro de um ano em que eu era menino. Para ela, era um exercĂcio de piedade cristĂŁ. Para mim, uma experiĂŞncia de terror.
Havia muita gente no campo santo. Fiquei andando entre os tĂşmulos, sem me fixar em lugar algum. Quando cheguei Ă capela antiga, centenas de velas ardiam sobre o piso de lĂĄpides, enchendo o ar de luz, calor e fumaça. Um grupo de mulheres rezava o terço. Tinham as expressĂľes condoĂdas, principalmente quando diziam: âLivrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o cĂŠu, especialmente as que mais precisarem de Sua misericĂłrdiaâ. A repetição ininterrupta das oraçþes, misturadas aos elementos visuais e Ă atmosfera densa, me deixaram em grande aflição. SaĂ dali, impressionado. Dias depois, levado por meu pai, fui parar no consultĂłrio do mĂŠdico e escritor JosĂŠ Expedito RĂŞgo, que me receitou comprimidos, dentro de uma caixinha metĂĄlica, azul e cilĂndrica. Eu admirava a embalagem. Foi a coisa boa daquele episĂłdio.
Era natural que, em grande parte de minha vida, me mantivesse a prudente distância da morte. Não só por aquele acontecimento da minha infância, mas porque, em geral, nossa cultura alimenta aversão contra esse fato inexoråvel das nossas vidas. Talvez a civilização em que vivemos seja bastante materialista para proporcionar meios adequados de nos aproximarmos desse mistÊrio.
Um texto de Gandhi foi quem primeiro me encorajou a pensar o tema sem os medos habituais. Disse ele que vida e morte sĂŁo estados diferentes de um mesmo fenĂ´meno. Mas foi um filme de Akira Kurosawa que me fez ter para com a âindesejada das gentesâ um olhar diametralmente oposto ao da criança aflita no cemitĂŠrio do SantĂssimo Sacramento. O filme chama-se O Povoado dos Moinhos e ĂŠ um dos episĂłdios de Sonhos, talvez a obra prima do cineasta japonĂŞs. Conta a histĂłria de um velho que vai ao funeral de seu antigo amor. O enterro ĂŠ um desfile, com lindas fantasias, mĂĄscaras, mĂşsica e dança. A morte nĂŁo ficou despida da sua gravidade, mas era tambĂŠm uma alegoria auspiciosa.
Como o assunto me fustigasse, adquiri um exemplar do livro Vida e Morte no Budismo Tibetano, de Chagdud Tulku Rinpoche. Nunca tinha visto alguÊm discorrer com tanta serenidade, clareza e conhecimento sobre tema que sempre evoca emoçþes profundas e perturbadoras.
O que ele explica vem de uma linhagem ininterrupta de mestres de meditação que remontam ao Buda Shakyamuni. Sem deixar de reconhecer que cada religião tem seus próprios ensinamentos sobre a natureza da morte e seus próprios mÊtodos para lidar com essa transição, Rinpoche diz que, entre os muitos mÊtodos extraordinårios e comuns para nos prepararmos para a transformação da morte, o mais grandioso deles resulta em iluminação durante a vida.
Antes que o leitor mude de pĂĄgina e procure assunto mais atraente, peço que nĂŁo me cole o selo de budista, pois sou cristĂŁo, mulçumano, judeu, hindu, tântrico, espĂrita, e ainda sobra espaço para outras abordagens espirituais. Falei no livro de Rinpoche porque seus ensinamentos me parecem lĂşcidos e estĂŁo me tirando de um grande aperto. Creio que eles podem ser Ăşteis a qualquer pessoa que queira vivenciar o tema da morte com sinceridade. NĂŁo acho que a morte e outros assuntos correlatos sejam de interesse exclusivo de monges e padres. As pessoas comuns podem e devem pensar e agir mais sobre eles. Me considero um ser comum, acuado por interrogaçþes. Minha Ăşnica certeza ĂŠ que vou morrer um dia. Nada mais.
AlÊm daquela publicação, comprei o Livro Tibetano do Viver e do Morrer, que passou vårios anos intacto na estante. Hå duas semanas, comecei a leitura. Estou adorando e recomendo aos mortais de todos os credos e filosofias que queiram mergulhar em 530 påginas desafiadoras. Um livro pode transformar a vida de uma pessoa, mas Ê claro que a espiritualidade livresca estå fora de cogitação.
Lembro-me do poeta Walt Whitman, que escreveu algo belĂssimo: âNĂŁo existe palavra capaz de dizer o quanto me sinto em paz perante Deus e a morteâ. O que eu queria era sĂł um pouco desse atrevimento.